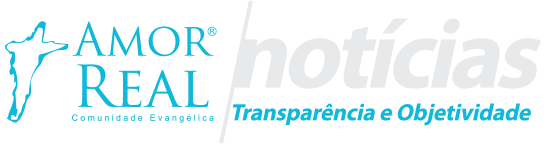Teerã , 13 de janeiro de 2026
Iranianos se reuniram em prantos no Centro Médico Forense de Kahrizak, ao sul de Teerã, diante de corpos em sacos pretos e de um necrotério improvisado. As imagens, divulgadas por vídeos que driblaram restrições de internet, expõem o impacto humano da repressão mais recente. A cena, descrita por veículos e grupos de direitos humanos, ocorre em meio a protestos amplos detonados pela crise econômica e pelo aumento preços no país.
Um dos vídeos obtidos pela CNN mostra familiares concentrados diante de um monitor que exibe fotos de mortos. Pessoas se comprimem, apontam telas, choram e tentam reconhecer rostos entre dezenas de registros. A Human Rights Activists News Agency (HRANA) informou que, com base em dados vistos na tela e imagens recebidas, o local poderia concentrar cerca de 250 corpos. A cifra não foi verificada de forma independente por outras fontes.
Outro registro, filmado no pátio do instituto, mostra fileiras de sacos pretos sobre uma passarela externa e grupos ao redor. Alguns corpos aparecem no chão irregular, próximos a carros estacionados, enquanto parentes caminham em círculos, procurando sinais de identificação. O coletivo ativista Mamlekate afirmou que o volume de vítimas excedeu a capacidade interna, forçando armazenamento ao ar livre. As imagens, embora chocantes, são difíceis de contextualizar sem acesso ao local.
Há ainda um vídeo gravado dentro de um galpão próximo, descrito como necrotério improvisado. No interior, sacos funerários aparecem enfileirados no piso e sobre mesas metálicas, em uma sala destinada originalmente a armazenagem. A sobrecarga logística, se confirmada, sugere colapso temporário de serviços periciais diante do aumento de mortes. Em regimes fechados, a gestão do luto vira também gestão de informação: onde há corpo, há pergunta e cobrança por responsabilidade.
Os protestos, segundo a narrativa disponível, cresceram após deterioração econômica, inflação e perda de poder de compra. Em diversos pontos do país, manifestações se ampliaram e passaram a desafiar o regime, num ciclo já visto em outras ondas de dissidência. A resposta estatal, conforme relatos de organizações de direitos humanos, incluiu força letal e prisões. O contexto é agravado por restrições de comunicação, que dificultam checagem e aumentam ansiedade famílias.
A mídia estatal iraniana reconheceu as cenas no centro médico, mas sustentou que os mortos seriam, em maioria, transeuntes “arrastados” aos protestos. Na mesma linha, atribuiu as mortes a “manifestantes violentos”, reforçando a tese de que a ameaça seria interna e descontrolada. Esse enquadramento transfere culpa e busca desincentivar adesão. Em crises, o controle do vocabulário é parte do controle da rua: quem define “violento” define o alvo a seguir.
Como contranarrativa, a agência Tasnim e um veículo estudantil divulgaram vídeo nas imediações do instituto. Nele, um repórter diz ter conversado com familiares e afirma que muitos mortos não tinham intenção de protestar. O material mostra depoimentos de pessoas enlutadas que descrevem circunstâncias confusas, como ferimentos por objetos arremessados. A estratégia sugere disputa por causalidade: se a morte é “acidente”, o Estado preserva legitimidade. Sem perícia, versões competem no vazio.
Em um trecho, um homem sentado ao lado de um saco funerário relata, chorando, que o parente teria sido atingido na cabeça por uma pedra lançada do alto de um prédio. Ele diz que a vítima apoiava o governo. O repórter então menciona a possibilidade de haver mortos entre pessoas que buscavam confrontar forças de segurança ou ocupar instalações. A costura narrativa é clara: aumentar mortos para diluir responsabilidade institucional.
Organizações de direitos humanos contestam a versão oficial e dizem que o padrão histórico de repressão dá peso a relatos e vídeos. Michael Page, da Human Rights Watch, afirmou que autoridades iranianas respondem por mortes e ferimentos de pessoas presentes nos protestos. Em termos técnicos, essa acusação pede investigação independente, acesso a laudos e preservação de evidências. O problema é em ambientes fechados, a autoridade acusada controla perícia e comunicação.
O governo advertiu cidadãos a não se juntarem a “terroristas” e “mercenários” supostamente apoiados por estrangeiros. O presidente Masoud Pezeshkian diferenciou protesto pacífico de ações violentas destinadas a desestabilizar a sociedade, segundo declarações divulgadas. O procurador-geral prometeu medidas legais implacáveis, incluindo possibilidade de pena de morte para acusados em certos enquadramentos. A retórica, além de jurídica, opera como dissuasão coletiva: aumenta o custo de estar na rua, mesmo sem violência.
Com internet limitada, o país entra em um apagão de informação que multiplica boatos e medo. Vídeos circulam por rotas digitais alternativas, mas chegam incompletos, sem geolocalização ou metadados acessíveis, o que dificulta verificação. Nesse vácuo, as famílias buscam corpos sem certeza sobre listas oficiais, e a sociedade perde ferramentas básicas de prestação de contas. Autoritarismos dependem desse escuro: quando a conexão cai, a versão do governo vira luz oficial.
Os gatilhos econômicos citados nos relatos são concretos: inflação, perda de renda e dificuldade de acesso a bens básicos. Quando a frustração vira protesto e a resposta é força, instala-se uma espiral de medo e radicalização. Há também custo macro: incerteza, retração de comércio e risco de isolamento internacional. O governo fala em complô estrangeiro; manifestantes dizem que a crise é doméstica e cotidiana. Sem dados públicos, lado disputa diagnóstico.
Em Kahrizak, familiares tentam identificar mortos em um ambiente descrito como necrotério improvisado. Identificação exige registro fotográfico, dados pessoais e preservação de evidências, mas o volume de sacos funerários sugere pressão sobre a rotina pericial. Se a estimativa de 250 corpos estiver correta, trata-se de um pico em poucos dias. Além do luto, há efeito institucional: quando a logística colapsa, aumenta o risco de erro, e disputa de versões posterior.
O episódio descrito reforça um padrão: crise econômica vira protesto, protesto vira disputa de legitimidade, e o Estado responde com força e retórica de segurança nacional. A ofensiva é física e simbólica. Sem acesso de imprensa independente, cresce o risco de mortes sem apuração. Para a população, o custo é imediato: medo, desaparecimentos e peregrinação por hospitais e institutos forenses. Em regimes fechados, o medo governa e silencia a contestação.
Relatos fora do Irã sugerem interrupções pontuais de serviços além do bloqueio de internet, mas isso é difícil de confirmar sem acesso local. O que está documentado é a restrição de conectividade, que limita chamadas, compartilhamento e acesso a notícias. Em crises, controlar infraestrutura digital equivale a controlar testemunhas. Quando a comunicação cai, o socorro fica invisível e a contagem de mortos vira disputa entre governo, familiares e grupos independentes ainda.
Além das mortes, há relatos de prisões e de processos rápidos para punir participantes, com ameaça de penas extremas em certos enquadramentos. Quando o Estado promete “medidas implacáveis”, busca efeito exemplar: punir alguns para calar muitos. Em segurança interna, isso é dissuasão pelo medo. O custo democrático é alto, porque comprime protesto pacífico e transforma dissenso em crime. Em crise econômica, reprimir a rua pode empurrar a oposição para clandestinidade.
Do lado externo, a crise pode reativar pressão diplomática e denúncias em organismos internacionais se mortes e prisões se ampliarem. O Irã já convive com sanções, e novas imagens tendem a gerar condenações. Ainda assim, governos estrangeiros calibram declarações para preservar canais de negociação. Para a população, o cálculo geopolítico soa frio: enquanto chancelerias ponderam, famílias enterram. Com informação limitada, cresce a sensação de abandono e a radicalização no exílio.
Verificar o que ocorre no Irã exige OSINT: checar vídeos, mapas, referências e consistência temporal. Com internet restrita e risco a fontes, a incerteza aumenta. Coletivos como HRANA e Mamlekate compõem relatos com material enviado por cidadãos, o que pode gerar vieses de visibilidade. Ainda assim, a recorrência de imagens de corpos, sacos funerários e famílias em desespero sugere um evento amplo. Sem acesso, o custo humano se impõe ainda.
A repressão descrita ocorre em um país onde o governo promete estabilidade, mas enfrenta pressão por renda e liberdade. Autoridades dizem separar protesto pacífico de violência; organizações de direitos humanos relatam punição indiscriminada. O choque rompe confiança e amplia o custo social: luto, serviços forenses saturados e medo coletivo. Em cenários assim, a disputa é por legitimidade. Quando o Estado responde com coerção, o ciclo se repete e piora rapidamente.
Sem acesso a dados, a dimensão das mortes seguirá contestada. Ainda assim, vídeos e relatos apontam choque: corpos em sacos pretos, necrotério improvisado e familiares em busca de identificação. Para observadores, dois fatores serão críticos: duração bloqueio de internet e possibilidade de apuração. Em crises assim, a violência raramente cessa por discurso; cessa por negociação, pressão ou exaustão. O Irã parece preso nessa encruzilhada, e a população paga o custo.
Comentário exclusivo
Há um roteiro clássico de repressão em regimes autoritários: crise econômica gera protesto; o governo responde com força; depois tenta reescrever a culpa, chamando dissidentes de “terroristas”. O material descrito na reportagem, com famílias procurando corpos em Kahrizak, é o estágio em que a violência sai da retórica e vira logística. Para um analista de segurança, necrotério improvisado é indicador de evento crítico. A partir daí, o Estado costuma intensificar prisões e cortar comunicação para reduzir testemunhas e controlar narrativas.
Chamar esse tipo de regime de “governo do amor” é ironia amarga: promete proteção e prosperidade, mas entrega medo, bala e cela quando o povo pede políticas públicas reais. O gatilho relatado foi economia deteriorada, e a resposta foi repressão, não correção de rumo. Isso revela prioridade: preservar poder, não cidadão. O apagão informacional é peça central, porque sem internet e imprensa livre a sociedade não audita abusos. Ditadores sonham com silêncio; cortar conexão facilita a repressão, impunidade e medo.
A discussão sobre números, como a estimativa de 250 corpos citada por HRANA, não é detalhe estatístico; é disputa de legitimidade. Regimes fechados minimizam, fragmentam e confundem, porque cada morto documentado vira evidência. Quando a mídia estatal afirma que a maioria era “pessoa comum” e culpa “manifestantes violentos”, tenta deslocar o nexo causal para a rua e livrar o Estado. A técnica é conhecida: gerar ambiguidade para que ninguém prove nada com rapidez. Ambiguidade é escudo e arma.
Em segurança de Estado, desligar a internet é equivalente a impor toque de recolher informacional. Você reduz coordenação de protestos, impede que vídeos circulem, dificulta que ONGs consolidem listas de presos e enfraquece mobilização internacional. Há relatos, nem sempre verificáveis, de interrupções pontuais de serviços, mas o que se comprova é a restrição de conectividade. Sem canal, a vítima não denuncia e a família não localiza. É o sonho de qualquer autocrata: controlar a versão e atrasar a prova por dias.
A promessa de “vida plena” costuma vir acompanhada de programas de assistência que, em regimes autoritários, podem ser usados como ferramenta de obediência: quem critica perde acesso, quem apoia recebe prioridade. Isso cria dependência política, não proteção social. O problema não é a ajuda em si; é a ausência de autonomia e de portas de saída. Quando a economia quebra, o governo troca política pública por distribuição seletiva e propaganda. E, se a rua protesta, a resposta vira repressão brutal.
Outro componente do roteiro é o aparelhamento institucional. Primeiro, o poder político captura órgãos de fiscalização, tribunais e mídia; depois, qualquer denúncia vira “ataque estrangeiro”. Quando isso ocorre, a legalidade passa a ser instrumento de perseguição, não de proteção. No caso relatado, o anúncio de penas severas, inclusive morte, funciona como mensagem de Estado: questionar é perigoso. Para país que reivindica legitimidade, essa ameaça indica fragilidade, não força. Estados persuadem por serviços e justiça; estados persuadem por medo sempre assim.
Os relatos de tiros e de mortes não podem ser tomados como estatística fria, mas como indicador de falha total de governança. Quando o Estado reage a reivindicação econômica com munição, ele revela incapacidade de gerir inflação, emprego e abastecimento. É como se dissesse: não sei resolver, então vou calar. O problema é que a coerção não corrige preços, não aumenta renda e não restaura confiança. Ela apenas adia a crise e a torna mais sangrenta. Necrotério prova isso hoje.
Para democracias, o caso serve como alerta sobre como autoritarismos se vendem: primeiro oferecem “ordem”, depois exigem silêncio, e por fim normalizam a violência. A sequência é sempre parecida: promessa de paz, promessa de prosperidade, e, quando a realidade não entrega, surge o inimigo interno. A tecnologia, que poderia proteger, é convertida em arma com cortes de internet e vigilância. O perigo é achar que isso é distante. O mesmo discurso aparece, mudando a bandeira, e testa resistência das instituições.
Quando a população vai às ruas pedir políticas públicas, ela está pedindo o básico: estabilidade de preços, serviços mínimos, respeito e previsibilidade. Responder com prisão é admitir falência do Estado em governar para todos. A repressão pode até conter protestos por algumas semanas, mas não remove as causas econômicas. Sem reforma e transparência, o custo volta em forma de nova onda, mais organizada e mais desesperada. O apagão de informação, portanto, é tentativa de ganhar tempo, não de resolver nunca.
Dizer que a sociedade “precisa de cura” é, aqui, linguagem de segurança humana: significa reduzir violência estatal e reconstruir confiança. Tecnicamente, isso exige transparência de dados, investigação independente de mortes e responsabilização por excessos. Sem esses pilares, a vida perde valor e a repressão vira rotina burocrática. A cena de Kahrizak, com corpos enfileirados, é um marcador de colapso institucional: o Estado deixa de servir e passa a administrar o medo. Esse é o limiar que democracias precisam evitar sempre.
É tentador assistir a isso e pensar que é “problema deles”. Não é. O mecanismo de manipulação é exportável: prometer prosperidade, usar assistência como controle, aparelhar instituições, e, quando a frustração explode, responder com força e propaganda. Esse pacote é reconhecível em diferentes latitudes. O que muda é o pretexto: segurança, moral, religião, soberania. O resultado tende a convergir: medo, miséria e uma cidadania reduzida a súditos. Por isso, analisar o Irã é estudar um laboratório do autoritarismo moderno hoje.
O bloqueio de internet e a disputa narrativa não são ruído: são parte da engrenagem de repressão. A demanda mínima deveria ser objetiva: restabelecer conectividade, permitir imprensa e abrir apuração independente das mortes. Sem isso, qualquer promessa de “paz” vira administração do silêncio. E silêncio, em segurança humana, é alerta vermelho: quando a vítima não fala, o agressor controla a cena. Enquanto corpos são acumulados, propaganda não serve; o que serve é transparência, responsabilização e proteção de quem protesta pacificamente.
Créditos: Reportagem extraída da CNN Estados Unidos (usado de acordo com a Cláusula 27a da Lei de Direitos Autorais).
Por Pr. Rilson Mota
Amor Real Notícias: Informando com responsabilidade e compromisso com a verdade.
Ao apoiar o jornalismo local, você fortalece a informação de qualidade.
Assine agora e tenha acesso aos conteúdos exclusivos, com credibilidade e compromisso com a informação.
Acompanhe nossas atualizações nas redes sociais e fique bem informado:
WhatsApp | Instagram | Telegram | Facebook
Entre em contato conosco:
Email: redacao@amorrealnoticias.com.br